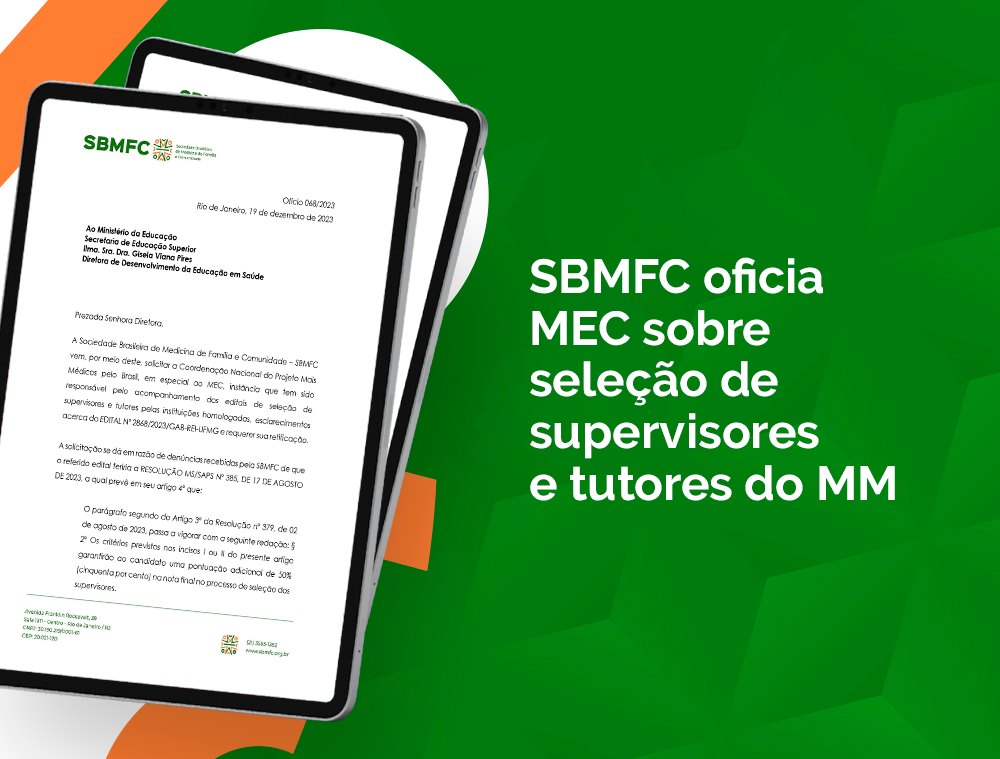Enquanto Andreia Beatriz Silva dos Santos fala ao telefone, melódica, é difícil não pensar nos versos assombrosos do poema “Eu-mulher”, de Conceição Evaristo: “Em baixa voz/ violento os tímpanos do mundo”.
Em entrevista exclusiva para o site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), Andreia, também uma poeta, discorre sobre sua trajetória profissional, a atuação no sistema carcerário, a militância política, a publicação do primeiro livro, a participação no documentário “Quando falta o ar”, as vivências durante uma pandemia que escancarou as discrepâncias sociais no país e mais.
Pais, Partenon, Porto Alegre e prisões
“Nasci em 1972, em uma família de pai, mãe e irmãos pretos, todos. Tive uma infância maravilhosa, com muito amor, muito cuidado, muita conversa, muito aprendizado”, conta. Foi no bairro Partenon, no coração de Porto Alegre, que a dra. Andreia cresceu. Entre as paredes da casa hospitaleira, os pais prepararam a menina para seguir seus sonhos e não esmorecer diante do racismo e do ódio à espreita lá fora – na metrópole majoritariamente branca ou em qualquer outro lugar.
Além de ser referência dentro do núcleo familiar, o casal, bastante querido e respeitado, se tornou um esteio para vizinhos e demais moradores da região que buscavam apoio financeiro ou orientação em momentos de dificuldade. “Batiam na nossa porta procurando o seu Hélio, ou Duca, como apelidaram meu pai. Era gente pedindo emprestado um copo de farinha, um pouco de feijão. Assim, a partir da colaboração, aprendi o que é comunidade”.
Entre tantas trocas, estranho seria se a gaúcha não descobrisse em si uma vontade latejante de cuidar das pessoas, sobretudo daquelas parecidas com ela, e cogitasse estudar medicina. Embora tenha escutado de professoras da escola que uma guria negra deveria fazer escolhas menos ambiciosas, a futura médica, estimulada pela família, passou a enxergar no universo da saúde oportunidades para aliviar a dor, transformar sua vida e as vidas que encontrasse pelo caminho.
Antes de começar a atuar em unidades prisionais, trabalho que já soma mais de quinze anos, de deixar o Rio Grande do Sul e se mudar para a capital baiana, onde vive atualmente, a dra. Andreia teve contato com o sistema carcerário através de familiares privados de liberdade.
“Lembro que um tio avô meu faleceu com sangramento digestivo na prisão. Era um dos nossos parentes que cumpriam pena. Depois, mais velha, já durante a residência, atendi a um paciente que estava em regime semiaberto, se não me falha a memória, a pedido de uma preceptora. Ainda que eu não estivesse ali como uma familiar, vivendo a angústia de quem é diretamente impactado pelo cárcere, a experiência mexeu comigo, expandiu meu olhar. Entendi que naquelas unidades havia uma gigantesca demanda por cuidados”, relata.
Apenas em 2005, após participar de um programa de interiorização e passar por vários municípios da Bahia como médica da estratégia de saúde da família, ela pôs os pés em Salvador e conheceu um grupo de pessoas engajadas no combate ao genocídio do povo negro e à brutalidade da polícia soteropolitana.
“Passei a integrar as atividades do grupo; foi quando começamos a desenvolver ações voluntárias dentro da penitenciária Lemos Brito e organizamos uma campanha, ‘Reaja ou será morta, Reaja ou será morto’, que daria origem à organização política de mesmo nome na qual hoje sou militante e coordenadora. Dois anos depois, eu me tornaria médica de uma das equipes de saúde”.
Segundo o mais recente anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), publicado em julho de 2023, havia 442.033 negros encarcerados no país no ano passado, totalizando 68,2% dos indivíduos presos. O percentual é o maior da série histórica do FBSP, iniciado em 2005. Sabendo que pretos e pardos são maioria nesse contexto e que existe seletividade na justiça criminal, a dra. Andreia percebeu que poderia, através da atenção à saúde, contribuir para a reinserção dessas pessoas na sociedade e para a reestruturação de suas vidas.
Outros futuros
Para a professora assistente do Departamento de Saúde e pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinar em Desigualdades em Saúde (NUDES) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), a Medicina de Família e Comunidade e a Reaja têm pontos em comum: o interesse genuíno pelas pessoas e o respeito às suas necessidades.
“Para quem estou olhando, de quem estou tratando? O que pulsa neste alguém diante de mim? O que o adoece, o que o mata, o que o faz estar no mundo? Como médica e como militante, essas perguntas me parecem fundamentais. Assim como a MFC, dentro dos consultórios e dos espaços de atenção à saúde, valoriza o protagonismo do paciente no seu processo de cuidado, a Reaja incentiva, nas comunidades, nos bairros, nas celas, que a população preta lute por sua vida e construa outros futuros”, argumenta.
A médica sublinha que um sem-fim de brasileiros continua reivindicando direitos básicos, lutando para não morrer. “Comida, diversão e arte”, como cantaram os Titãs em “Comida”, são importantes, mas aqueles que compõem as multidões do sistema prisional, negligenciados pelo poder público, não têm acesso ao mínimo. “E o mínimo”, assevera, “é estar vivo e não ter sua humanidade negada”.
Estudo divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no primeiro semestre deste ano apontou que aproximadamente 62% dos óbitos que acontecem nas prisões são causados por enfermidades como pneumonia e tuberculose. Afinal, é regra, não exceção: em cubículos superlotados, detentos são expostos a condições precárias de alimentação e higiene, privados de ventilação e luz natural e submetidos a tortura física e psicológica. Vale lembrar que dos cerca de 900 mil que o país contabilizava em 2022, 44,5% ainda não haviam sido julgados, ou seja, eram provisórios.
Em outubro, o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento da ação proposta em 2015 que pede o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional” no sistema penitenciário brasileiro. Oito anos atrás, lembra a médica, os ministros chegaram a comparar com “masmorras medievais” as unidades prisionais espalhadas pelo território nacional. “Não reclamo melhores prisões, não acredito nisso, mas vivemos uma situação de grave violência institucional que não pode ser ignorada.”
Arte como antídoto
Racionais MC’s, Emicida, Dexter, Lauryn Hill, Billie Holiday e outros grandes nomes são levados pela dra. Andreia para as consultas e atividades coletivas com a população privada de liberdade. “Quando escutam as canções desses artistas negros ou assistem a algum filme de temática negra, quando se identificam com as histórias contadas ali, as pessoas recuperam parte da humanidade que lhes é subtraída”, se emociona a médica que com a proposta “Cultura Intramuros” articula cultura, saúde, direitos e educação, mobilizando detentos e familiares.
“Por também ser uma mulher preta, constantemente hostilizada, preciso desenvolver inúmeras habilidades para me reconstruir dia após dia. Ler, ver, escutar e fazer arte vem me ajudando nesse processo.”
Ela já havia reunido alguns poemas para compor o livro “Olhar por entre grades, vidas em poemas”, publicado em 2020 pela Reaja – que tem uma editora, um jornal impresso e um selo musical -, quando o caos pandêmico tomou conta do planeta. Parte do processo de escrita foi influenciado pela devastação do vírus, que evidenciou rachaduras existentes no tecido social do Brasil.
“Diante de tanta dor, do silêncio pela falta de respostas, decidi amplificar a minha voz. Sem dúvidas, a Covid-19 fermentou em mim o desejo de registrar a complexidade que envolve a atuação no sistema carcerário. Nos poemas estão uma década e meia de experiência no espaço prisional; meu esforço cotidiano para semear e encontrar sensibilidade e amor em cenários devastados pelo sofrimento”.
No rol de expressões artísticas da autora, que ainda publicou pela Reaja Editora, neste ano, o livro “Tempo em mim”, a literatura encontra o audiovisual. Além de co-diretora, ao lado de Hamilton Borges dos Santos e Luis Carlos Alencar, do documentário “Genocídio e Movimentos”, que aborda o combate da Reaja ao genocídio em curso de negras e negros, a dra. Andreia foi convidada pelas irmãs Ana Petta, atriz e diretora, e Helena Petta, médica e diretora, para participar do premiado “Quando falta o ar”.
“A princípio, Helena quis conhecer melhor minha atuação. Esse contato foi essencial, serviu quase como uma terapia, uma acolhida nos primeiros meses, no início da pandemia, quando não havia vacina, fluxos estabelecidos, apenas o isolamento como medida de contenção da crise. Depois de muitas trocas, veio a equipe para fazer a filmagem.
“O resultado foi esse documentário maravilhoso, sensível, um registro histórico e político do descaso do nosso governo e da luta incessante, incansável – ou cansável, sim – das mulheres no Sistema Único de Saúde, em especial as profissionais da enfermagem, pretas, como eu”, arremata a escritora que lapidou, no poema “Amanhecer”, o verso “Defendo a crença do dia”.
Mais do que crer, Andreia Beatriz, filha de Lúcia e Hélio, portoalegrense do Partenon, com medicina, arte e um destemor retinto, tem feito nascer manhãs no horizonte de muita, muita gente.